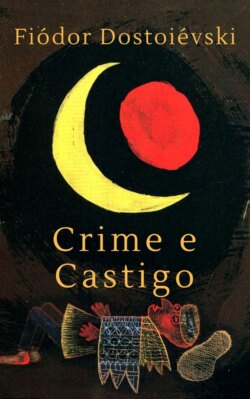Читать книгу Fiódor Dostoiévski: Crime e Castigo - Fiódor Dostoievski - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 5
Оглавление«Na verdade, ainda não há muito tempo que tencionava ir procurar Razoumikhine, a fim de lhe pedir para me conseguir algumas lições, ou um trabalho qualquer...», pensava Raskólnikov. «Mas, nesta altura, em que me pode ser útil? Dê-mos de barato que me arranja algumas lições, suponhamos mesmo que, dispondo de alguns kopecks, se sacrifica, emprestando-me dinheiro para umas botas e um fato decentes, indispensáveis a um professor. Hum! E depois? O que posso fazer com algumas piastras? É só disso que preciso agora? Parece-me que é uma tremenda tolice se for a casa de Razoumikhine...»
O desejo de saber o que iria fazer a casa do condiscípulo intrigava-o muito mais do que a si próprio confessava. Procurava qualquer sinistra significação nesse facto, na aparência o mais natural.
«Será possível que no meio das minhas contrariedades e apoquentações só tenha esperança em Razoumikhine? Só ele de facto poderá salvar-me?»
Refletiu, esfregou os olhos e, como um relâmpago, depois de ter por algum tempo atormentado o espírito, surgiu-lhe no cérebro uma ideia muito extraordinária.
«Vou a casa do Razoumikhine», afirmou como se tivesse tomado uma última resolução. «Vou a casa do Razoumikhine, não há que duvidar, mas não neste momento... Irei visitá-lo... no dia seguinte, quando aquilo estiver concluído e as minhas coisas tiverem mudado de aspeto.»
Ao pronunciar estas palavras, reconsiderou logo:
«Quando aquilo estiver concluído!», exclamou com um tal sobressalto que se levantou. «Então aquilo realizar-se-á? Será possível?»
Levantou-se e caminhou a passo rápido. O seu primeiro movimento foi voltar a casa, todavia custava-lhe entrar nesse horrível cubículo onde passara mais de um mês planeando tudo aquilo! Esta ideia despertou-lhe uma certa repulsão. Pôs-se a caminhar ao acaso.
O temor nervoso tomara um caráter febril. Sentia calafrios, apesar da elevada temperatura do dia. Quase maquinalmente, como que cedendo a uma necessidade interior, procurava fixar a atenção num sem número de factos, os mais diversos, para fugir à obsessão de uma ideia perturbadora. Debalde procurava distrair-se; voltava sempre aos mesmos pensamentos. Quando ergueu a cabeça para olhar à sua volta, esqueceu por momentos aquilo que o preocupava e até mesmo o local onde se encontrava. Foi assim que atravessou todo o Vasili Ostrov até junto do Pequeno Neva, passou a ponte e chegou às ilhas.
As árvores e a brisa fresca desanuviaram-lhe a princípio os olhos, acostumados já à poeira, à cal e às pirâmides de alvenaria. Respirava-se ali bem. Não havia exalações mefíticas, nem tabernas. Bem depressa porém essas novas sensações perderam o encanto, cedendo o lugar a uma doentia irritação. Por vezes parava em frente de alguma casa de campo, envolvida por forte vegetação: olhava pelas grades, via nas janelas mulheres vestidas com elegância e crianças correndo pelos jardins. De quando em quando passavam a seu lado cavaleiros e amazonas, ou esplêndidas carruagens. Observava-os com um olhar investigador e esquecia-os, antes mesmo de deixar de os ver.
De súbito parou e contou o dinheiro que trazia: uns trinta kopecks. «Dei vinte ao polícia e três à Nastásia pela carta; foram portanto 47 ou 50 que dei ontem aos Marmeladov». Verificando a situação da sua bolsa, obedecera a qualquer razão; porém um momento depois não se lembrava do motivo porque contara o dinheiro; ocorreu-lhe mais tarde, passando em frente de uma taberna. O estômago reclamava.
Entrou, bebeu um cálice de aguardente e trincou um bolo que foi comendo pelo caminho. Havia muito que não tomava bebidas alcoólicas. A pouca aguardente que bebera produziu logo efeito. Fraquejavam-lhe as pernas e começou a sentir uma forte sonolência. Quis voltar para casa; ao chegar todavia a Pétrovsky Oskov, percebeu que não podia continuar.
Dirigiu-se para os campos, deitou-se na relva e adormeceu profundamente.
Num estado mórbido, os sonhos têm, por vezes, um relevo extraordinário, uma espantosa semelhança com a realidade. Por vezes o quadro é monstruoso; no entanto o cenário e a efabulação são tão naturais, os pormenores são tão subtis e apresentam no seu imprevisto um tão artificioso engenho que o sonhador, mesmo que fosse um artista como Pouchkine ou Tourguenev, seria incapaz de pintar com tanta perfeição. Esses sonhos mórbidos gravam-se na memória e influem poderosamente no organismo já alquebrado do indivíduo.
Raskólnikov teve um sonho horrível. Regressara à infância e à pequena cidade onde vivia então com a família. Tinha sete anos. Numa tarde de festa passeava com o pai, fora de portas. O tempo estava enevoado, o ar pesado e os lugares eram tal e qual como a memória lhos recordava. Em sonho encontrou até mais de um pormenor esquecido na sua reminiscência. Distinguiu bem a pequena cidade, em cujos arredores não havia um único salgueiro branco. Lá muito ao longe, na linha extrema do horizonte, a mancha negra de um pequeno bosque. Para lá do último jardim da cidade havia uma taberna, junto da qual o pequeno nunca podia passar, quando passeava com o pai, sem sentir uma impressão de terror. Havia sempre ali uma multidão que gritava, ria, enfurecia-se e brigava, ou então cantava com voz rouca coisas de apavorar! Nos arredores andavam sempre ébrios de rostos horríveis! Se se aproximavam, Rodia agarrava-se ao pai, tremendo como um vime. O carreiro que levava à taberna estava sempre coberto de uma poeira negra. A trezentos passos esse caminho desviava para a direita e contornava o cemitério da cidade, no centro do qual se levantava uma igreja em pedra, com cúpula verde, onde em criança ia com os pais ouvir missa, duas vezes por ano, quando se celebravam ofícios sufragando a alma da sua avó, falecida havia muito e que não chegara a conhecer. Levava sempre um bolo de arroz, tendo no cimo uma cruz feita com passas. Gostava muito dessa igreja, das suas imagens e do velho padre de cabeça trémula. Ao lado da lápide que cobria a terra onde repousavam os restos da velhinha existia um pequeno túmulo, o de seu irmão mais novo, que morrera aos seis meses. Também não o conhecera, porém tinham-lhe dito que tivera um irmão. Por isso, sempre que ia ao cemitério fazia o sinal da cruz quando chegava junto do túmulo, inclinava-se respeitosamente e beijava-o. Relatemos agora o sonho de Raskólnikov: segue, com o pai, pelo caminho que leva ao cemitério e passam em frente da taberna. O pequeno agarra-se à mão do pai e olha assustado para a casa odiada, onde se ouve uma algazarra superior à do costume. Estão lá muitos burgueses e camponeses, com os seus trajes dos dias festivos. Toda aquela ralé está embriagada e todos cantam. Em frente à porta da taberna está um destes carroções que servem para transportar pipas de vinho e que em geral são puxados por vigorosos cavalos, com pernas grossas e farta crina. Raskólnikov experimentava sempre prazer em admirar esses enormes animais, capazes de arrastar os mais pesados cargos sem sentirem a menor fadiga. Contudo, agora, estava atrelado ao carroção um cavalicoque de uma magreza horrível, um desses tristes animalejos que os mujiks obrigam a arrastar enormes carros de lenha ou de feno e que atormentam com pancadaria, chegando mesmo a bater-lhe nos olhos quando os desgraçados empregam baldados esforços para mover o veículo atolado na lama. Esse espetáculo, que Raskólnikov por vezes presenciara, humedecia-lhe sempre os olhos e a mãe nunca, em tais casos, deixara de o afastar da janela. De súbito levanta-se um grande tumulto. Da taberna saem, gritando, cantando e tocando guitarra, mujiks completamente embriagados, vestindo camisas vermelhas e azuis e com os capotes aos ombros.
— Subam, subam! — gritou um rapaz muito novo, de pescoço grosso e avermelhado. — Levo-os a todos, subam!
Estas palavras provocaram gargalhadas e exclamações.
— Vais meter ao caminho este lazarento?
— Estás doido, Mikolka. Então vais pôr um cavalo tão pequeno e velho a semelhante carro?!
— Isto é animal dos seus vinte anos!
— Subam, subam, levo-os a todos — exclamou de novo Mikolka, que saltou para o carro, pegou nas rédeas e ficou de pé na boleia do veículo. — O cavalo baio levou-o há pouco o Matvié e este diabo, meus amigos, faz-me de fel e vinagre. A minha vontade era matá-lo. Não ganha para o que come. Subam, subam e verão como o faço galopar! Olé, se faço!
E pegou no chicote, satisfeito com a ideia de bater no pobre animal.
— Subam, vamos! Não diz que o mete a galope? — disse alguém, por troça, de entre a multidão que cercava o carroção.
— Há dez anos, com certeza, que não galopa.
— Deve correr como o vento!
— Não tenham dó, meus amigos! Pegue cada um no seu chicote e preparem-se!
— Está dito, vamos a isso!
Sobem para a carroça de Mikolka, rindo e chalaceando. Já lá estão seis passageiros e há ainda um lugar. Entre eles está uma aldeã gorducha, de faces rubicundas, vestindo jaleca de algodão vermelho e na cabeça uma espécie de touca ornada de missangas. Trinca avelãs e de quando em quando solta uma gargalhada. Da multidão que rodeia o carroção rompem também as risadas. E na verdade, quem não há de rir ao pensar que tal animalejo vai arrastar a galope toda aquele gente! Dois dos homens que subiram para o veículo pegam em chicotes, dispostos a ajudar Mikolka.
— Agora! — grita este.
O animal puxa com toda a sua pouca força, mas, longe de galopar, mal pode dar um passo; escorrega, resfolga e encolhe-se todo ao receber as repetidas chicotadas que os três lhe vibram sobre o dorso. Redobra a alegria no carro e entre a multidão. Todavia Mikolka perde a paciência e, desesperado, bate furiosamente no cavalo como se de facto esperasse fazê-lo galopar.
— Deixem-me subir também! — exclamou de entre os circunstantes um rapagão que estava desejoso por se juntar ao alegre rancho.
— Sobe — respondeu Mikolka. — Subam todos, pois ele pode... há de poder por força!
— Paizinho, paizinho — gritou o pequeno — que está a fazer aquela gente? Estão a bater no pobre cavalito!
— Vamos, vamos! — diz o pai. — São uns bêbedos que estão a divertir-se, são uns estúpidos... Vem, não olhes para lá! — E tentou levá-lo. Rodia porém desprendeu-se da mão paterna e correu para junto do cavalo. O pobre animal não podia mais. Arquejante, após um momento de descanso, voltou a puxar inutilmente.
— Chicote até dar cabo dele! — gritou Mikolka. — Não há outra coisa a fazer. Vamos a isto!
— Bem se vê que não és cristão, meu lobisomem! — exclamou um velho de entre a turba.
— Viu-se porventura, alguma vez, um animal como este puxar um tão grande carroção? — acrescentou outro.
— Biltre! — vociferou um outro.
— Ele não é teu, ouviste? É meu. Posso fazer-lhe o que me apetecer. Suba mais gente, subam todos. há de galopar por força!
A voz de Mikolka foi abafada pelas ruidosas gargalhadas. À força de pancadas e apesar da sua extrema fraqueza, o cavalo principiou aos coices. A hilaridade geral propagou-se até ao velho. O caso era mesmo para rir: um animal, que não se sabia porque milagre se aguentava nas pernas, a escoicear!
De entre a multidão adiantam-se dois indivíduos, armados de chicotes, e vão, um da esquerda, outro da direita, espancar o cavalo.
— Deem-lhe na cabeça! nos olhos! nos olhos! — gritou, fulo, Mikolka.
— Vamos a uma canção, rapaziada? — propôs um dos do carro. E todos entoaram em coro uma canção que um pandeiro ia acompanhando. A aldeã continuava a trincar avelãs e a rir.
Rodia aproximou-se do animal e viu que lhe batiam nos olhos! O coração confrangeu-se-lhe e as lágrimas correram-lhe em fio. O chicote de um dos facínoras toca-lhe na cara; nem o sente. Estorce com desespero as mãozitas e soluça. Acerca-se do velho de barbas e cabelo branco que, abanando a veneranda cabeça, reprova aquela selvageria. Uma mulher agarra-o pela mão e tenta afastá-lo daquele bárbaro espetáculo. Ele esquiva-se e volta para junto do animal, que já não pode mais e faz um último esforço para escoicear.
— Ah, desalmado! — grita Mikolka, com a cabeça perdida. Larga o chicote, tira do fundo do carro uma grossa e pesada tranca e, pegando-lhe por uma extremidade com as duas mãos, brande-a com esforço por cima do cavalo.
— Escangalha-o! — gritaram em redor.
— Mata-o!
— É meu! — grita Mikolka. E a tranca, vibrada pelos seus vigorosos braços, cai com estrondo no costado do animal.
— Cheguem-lhe! Cheguem-lhe! Porque param? — repetem várias vozes de entre a turba.
De novo a tranca se ergue, de novo cai sobre o dorso do desgraçado animal, que fica estendido com a violência da pancada. Faz no entanto um supremo esforço e, com o pouco alento que lhe resta, puxa em diferentes direções, tentando escapar ao suplício; porém de todos os lados vibram os chicotes dos seus algozes. A tranca, manejada por Mikolka, vibra várias vezes sobre a vítima. O bruto está furioso por não matar o animal de uma só pancada.
— Tem fôlego de gato — gritam os espectadores.
— Não o terá por muito tempo. A sua última hora soou — observa alguém.
— Um machado! — lembra outro. — É a maneira de acabar mais depressa com ele.
— Deixem-me passar! — grita Mikolka, largando a tranca e procurando no fundo da carroça uma alavanca de ferro. — Afastem-se! — exclama ele, e dá uma violenta pancada sobre o animal.
O cavalo quase cai; quer ainda puxar, mas uma segunda pancada atira-o por terra, como se de um só golpe lhe tivessem cortado as pernas.
— Vamos dar cabo deste diabo, — brada Mikolka, saltando em terra.
E toda aquela canalha lança mão do que encontra: paus, chicotes, fueiros, e atira-se sobre o pobre cavalo agonizante. Mikolka, junto do animal, bate-lhe sem descanso com a alavanca de ferro. O animal estica-se, estende o pescoço e dá um último arranco.
— Morreu! — gritou a multidão.
— Não há mal! É meu! — exclama Mikolka, brandindo a alavanca, com os olhos injetados, parecendo lastimar-se de que a morte lhe tivesse roubado a vítima tão depressa.
— Bem se vê que não és cristão! — dizem indignados muitos curiosos.
O pequeno, desvairado e soluçando, abre caminho por entre a turba que rodeia o animal; segura a cabeça ensanguentada do cavalo e beija-a com ternura nos olhos... Depois, num movimento de cólera, com os punhos cerrados, atira-se a Mikolka. Nesse momento o pai, que há muito o procurava, descobre-o e leva-o dali.
— Vamos, vamos para casa!
— Paizinho, porque... mataram... o pobre animal? — pergunta a criança por entre soluços. A respiração dificulta-se-lhe. Da garganta oprimida saem-lhe sons abafados.
— São selvajarias de bêbedos. Não temos nada com isso, vamos — responde o pai.
Rodia agarra-lhe a mão contra o coração, mas pesa-lhe muito sobre o peito. Quer respirar, gritar, e acorda arquejante, com o corpo alagado e os cabelos empastados em suor.
Sentou-se junto de uma grande árvore e respirou longamente.
«Graças a Deus foi um sonho!», pensou. «Mas não será tudo isto um princípio de febre? Um sonho tão horroroso dá-me que pensar».
Sentia os membros lassos e a alma envolta num negro véu de confusão. Apoiou os cotovelos nos joelhos e a cabeça nas mãos.
«Meu Deus!», monologou. «Será possível que tenha de abrir o crânio dessa mulher com um machado! Será possível que tenha de pisar o sangue morno e vá arrombar a fechadura, roubar e depois esconder-me, a tremer, todo ensanguentado... Senhor, isto será possível?»
Tremia em convulsões.
«Para que fui pensar nisto?», continuou, num tom de profunda surpresa. «Bem sabia que não era capaz de praticar tal crime. Para que tenho até agora vivido atormentado com esta ideia? Ainda ontem, quando fui fazer aquele ensaio, compreendi perfeitamente que aquilo era superior às minhas forças. Depois, quando descia a escada, reconheci que era ignóbil, infame, repugnante... Só a ideia de tal horror me aterrava! Não, não terei coragem! É superior às minhas forças! Quando mesmo os meus raciocínios não dessem lugar à menor dúvida, quando mesmo todas as conclusões a que cheguei durante um mês fossem claras como a luz, exatas como a aritmética, não podia decidir-me a tal fazer! Sou incapaz disso! Todavia porque será, sim, porque será que mesmo agora?»
Ergueu-se, olhou espavorido em volta, como que admirado de se encontrar em tal local e seguiu pela ponte de T... Estava pálido, os olhos brilhavam-lhe, a fraqueza manifestara-se em todo o seu ser, mas começava a respirar com mais desembaraço. Sentia-se aliviado do horrível peso que por tanto tempo o oprimira, e na sua alma pacificada a serenidade entrava de novo.
«Senhor!», suplicou. «Mostra-me o caminho do dever o renunciarei a este sonho maldito!»
Atravessando a ponte, contemplou o rio e a majestade do crepúsculo. Apesar da sua muita fraqueza, não sentia a fadiga. Dir-se-ia que o tumor que há um mês se lhe formara no coração acabava de rebentar. Agora estava livre! O horrível malefício não produzia já o seu efeito.
Mais tarde Raskólnikov lembrou-se da forma como empregou o tempo, nesses dias da crise, minuto a minuto. Entre outras, uma circunstância lhe acudia muitas vezes à ideia e, conquanto não tivesse nada de extraordinário, nunca pensara nela sem uma espécie de terror supersticioso, dada a influência importante que exercera no seu destino.
Eis o facto, que ficou sendo para ele um enigma: como se explicava que, estando fatigado, exausto e devendo, como era natural, voltar para casa pelo caminho mais curto e mais direito, tivesse tido a ideia de tomar pelo Mercado Geral, ao qual nada, absolutamente nada, o chamava? É certo que essa volta não lhe alongava muito o caminho, mas era em absoluto desnecessária. É certo, também, que muitas vezes lhe sucedera chegar a casa sem saber qual o itinerário seguido. «Mas», perguntava aos seus botões, «como se deu aquele encontro tão importante, tão decisivo para mim, e em todo o caso tão fortuito, que tive no Mercado Geral, onde nada havia que me chamasse lá? Porque se deu esse encontro na hora própria, naquela em que, nas disposições em que me encontrava, devia ter as mais graves e as mais funestas consequências?» Parecia-lhe ver nessa fatal coincidência o efeito de uma predestinação.
Eram nove horas, mais ou menos, quando chegou ao Mercado Geral. Os comerciantes fechavam as lojas, os vendedores preparavam-se para ir embora e os fregueses iam saindo. Junto das tabernas, que no Mercado ocupam o rés do chão da maior parte das casas, aglomeravam-se operários e indigentes. Esta praça e os pereouloks vizinhos eram os locais que Raskólnikov frequentava com prazer, quando saía de casa sem destino. Com efeito, naqueles sítios os seus andrajos não davam nas vistas, podendo passear à vontade. À esquina do pereoulok K... uns quinquilheiros, marido e mulher, vendiam miudezas, dispostas em dois tabuleiros.
Com quanto se dispusessem também a ir para casa, tinham-se demorado a conversar com alguém que se aproximara deles. Esse alguém era Isabel Ivanovna, irmã mais nova de Alena Ivanovna, a usurária, a casa de quem Raskólnikov fora no dia anterior empenhar o relógio e fazer o seu ensaio. Havia muito que estava informado acerca de Isabel e esta também o conhecia um pouco. Era uma solteirona esguia e mal-amanhada, de trinta e cinco anos; era tímida, com seus modos suaves e meia idiota. Tremia diante da irmã, que a tratava como a uma escrava, obrigando-a a trabalhar dia e noite, e batendo-lhe uma vez por outra. Nesse momento a sua fisionomia tinha um ar de indecisão. Estava de pé, com um pequeno embrulho na mão, ouvindo atentamente o que diziam os quinquilheiros, que lhe explicavam qualquer coisa num tom caloroso. Quando Raskólnikov avistou Isabel, teve uma sensação estranha, como de espanto, se bem que o encontro nada tivesse de singular.
— É preciso aparecer por cá para se tratar do negócio — disse o vendedor. — Venha amanhã, das seis para as sete horas. Eles também virão.
— Amanhã? — interrogou com voz dolente Isabel Ivanovna, que parecia contrariada.
— Tem receio de Alena Ivanovna? — interrompeu a vendedeira com ar decidido. — É inacreditável que se deixe dominar em absoluto por uma criatura que não é mais, afinal, do que sua irmã de leite!
— Desta vez não diga nada a Alena Ivanovna — interrompeu o marido. — Aconselho-a a que venha, sem lhe pedir licença. Trata-se de um negócio vantajoso. A sua irmã convencer-se-á depois.
— E a que horas devo vir?
— Amanhã, das seis para as sete. há de vir também alguém de casa deles. É preciso estar presente para a coisa se poder tratar.
— Haverá uma chávena de chá para si — continuou a mulher do vendedor.
— Está bem, virei — respondeu Isabel pensativa. E preparou-se para se despedir.
Raskólnikov passara já pelo grupo formado pelos três e não pôde ouvir mais. De caso pensado retardara o passo, para não perder uma única palavra da conversa. À surpresa do primeiro momento, sucedeu no seu espírito um terror que o fez tremer. O acaso acabava de lhe fazer saber que no dia seguinte, às seis horas da noite em ponto, Isabel, a irmã e única companhia da velha, estaria ausente, e portanto, no dia seguinte, às seis horas, a velha estaria só em casa.
Raskólnikov estava a poucos passos de casa. Entrou no seu cubículo como se tivesse sido condenado à morte. Não pensava, nem podia pensar em coisa alguma. Sentia em todo o seu ser que não dispunha nem de vontade, nem de livre arbítrio, e que estava em definitivo resolvido.
É evidente que poderia esperar anos inteiros por uma ocasião propícia, provocá-la mesmo, sem encontrar ensejo tão azado como o que acabava de se lhe oferecer.
Ainda assim, ser-lhe-ia difícil saber na véspera e de boa fonte, sem correr risco algum, sem se comprometer com perguntas perigosas, que no dia imediato, a tal hora, uma certa velha que queria matar estaria só em casa.