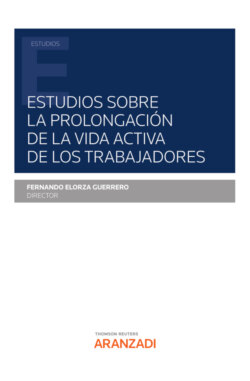Читать книгу Estudios sobre la prolongación de la vida activa de los trabajadores - Fernando Elorza Guerrero - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Trabalho, precariedade e desigualdades1
ОглавлениеPara além de refletir a dicotomia entre centralidade do trabalho versus perda de centralidade do trabalho, o léxico político da “era pós-fordista” foi sendo marcado por temas que têm condicionado a agenda das relações laborais em contextos distintos, e não apenas no contexto português. Globalização, descentralização, flexibilidade, flexigurança2 foram e são alguns dos temas recorrentemente tratados de modo a “encostar à parede” o fator trabalho. Em última análise, adquiriram maior destaque as investigações e reflexões sobre a austeridade3. Foi, aliás, no quadro da adoção de políticas de austeridade que o desemprego, a precariedade, as desigualdades e a pobreza passaram a condicionar a agenda das relações laborais. Ou seja, esta agenda revelou-se “forçada”, por vezes mesmo governamentalizada e subordinada às regras da União Europeia (UE)4. Daí que os desafios a várias organizações sociais tivessem passado em larga medida pelo combate às tendências de individualização e pela necessidade de empreender formas de ação coletiva, de modo a suster direitos sociais em perda.
A precariedade foi uma das linguagens que mais prevaleceu. Como assinalam COSTA e COSTA5, ainda que o termo “precariedade” esteja condicionado pelo modo como, em cada edifício normativo nacional, se distingue entre emprego precário e não precário, a precariedade está frequentemente associada a experiências subjetivas, processos de desfiliação social6, “nova pobreza”, “desqualificação social”7, ausência de proteção social ou perda de uma relação de emprego padrão8. Consequentemente, a descontinuidade (de tempos de trabalho, funções exercidas, vínculos laborais) ou a escassez de rendimentos/empobrecimento são duas características principais da precariedade9.
Abordagens do período recente invocam este processo de metamorfose do trabalho para diagnosticar a emergência do precariado como uma classe em formação10. Tratar-se-á de uma “classe perigosa”, como insinua um dos títulos deste autor? É, evidentemente, uma questão controversa, mas o certo é que esta categoria recobre uma variedade de camadas sociais: a) os velhos setores da classe trabalhadora, em geral pouco instruídos, que perderam o seu passado e a suposta estabilidade social e profissional que lhe estava associada; b) os que não dispõem de um sítio a que possam chamar seu –os migrantes e as minorias– e que, por esse facto, não têm presente; c) os detentores de qualificações, mas sem oportunidades de emprego adequado ou de reconhecimento do seu estatuto e que, por isso, estão desprovidos de futuro11. Por outro lado, e ainda que possa ser precipitado dissociar o precariado da classe trabalhadora e não reconhecer que o precariado se sobrepõe em grande medida ao “proletariado precarizado”12, não podemos deixar de aludir a quem circula entre empregos inseguros e mal pagos e não sabe o que é segurança no trabalho.
Esta breve revisitação da precariedade –entendida no sentido laboral, promotora de desigualdades, mas também percecionada como modo de vida– verte-se num conjunto de formas de trabalho: da economia informal (à margem da formalidade e sem pagar impostos), ao trabalho flexível (que combina distintas rotinas de trabalho, organização de funções e gestão do tempo), do trabalho das gerações mais jovens (de caráter temporário, parcial e que não valoriza adequadamente as qualificações escolares) às adaptações ao(s) setor(es) tecnológico(s), potencialmente gerador(es) de formas de “ciberproletariado”13. Numa análise de fundo sobre os processos de transformação laboral e de mobilização de precários em Portugal, José Soeiro14 identificou um conjunto de modalidades de precarização: contratação a termo; recibos verdes; trabalho a tempo parcial involuntário; trabalho temporário; precariedade assistida pelo Estado (estágios, bolsas e contratos de emprego-inserção).
Utilizada frequentemente para responder a necessidades permanentes, a contratação a termo configura situações de exceção face à modalidade contratual padrão –o contrato sem termo–, pelo que só deveriam ser celebrados contratos deste tipo por um período estritamente necessário à satisfação de necessidades temporárias da empresa/instituição. Em 2014, a percentagem de contratos a termo na UE-28 era de 14%, ao passo que em Portugal era de 21,4%15. Além disso, 87,2% dos contratos a termo em Portugal não eram voluntários.
Em diversos continentes a precariedade está muito associada à informalidade. Temos verificado isso na América Latina no âmbito de um projeto internacional (LATWORK)16 direcionado para estimular o papel das universidades e centros de pesquisa na promoção do trabalho digno. Um relatório recente da OCDE17 centrado na questão da informalidade nos países da América Latina aponta numa direção semelhante, num continente onde a pobreza e a economia paralela assumem proporções dramáticas. O fenómeno do trabalho informal está, como regra geral, associado à vulnerabilidade e precariedade, mas as desigualdades e assimetrias sociais tendem a estimular a sua própria reprodução noutros parâmetros no tempo e no espaço. É o que ocorre com a perpetuação intergeracional da pobreza e exclusão. Por outro lado, esses dados mostram como o nível de educação alcançado interfere diretamente no rendimento e na passagem informal/formal, o que obviamente significa que aumenta entre as camadas mais jovens onde os níveis de sucesso educacional é maior. O ensino superior e a ciência são as instâncias mais importantes para promover a inovação, combater a informalidade e a insegurança no emprego. Num passado recente a informalidade escondida sob a capa de “trabalho independente” serviu de motor da expansão da precariedade.
Com um peso significativo no sul da Europa, os recibos verdes remetem para o trabalho por conta própria ou o autoemprego. Dois problemas são recorrentemente associados ao uso dos recibos verdes: por um lado, servem para ocultar a existência de relações de dependência jurídica (daí a expressão “falsos recibos verdes”). Em 2015, o número de trabalhadores independentes que dependiam economicamente (em cerca de 80%) de um único empregador eram 41 399 (em 2014 eram 32 655), o que faz supor tratar-se de “falsos recibos verdes”18. Por outro lado, os direitos de proteção social dos trabalhadores independentes são ainda muito ténues, não obstante algumas propostas governativas apresentadas no final de maio de 2018 em sede de concertação social, no sentido facilitar um maior acesso a subsídio de doença e de desemprego.
O recurso ao trabalho a tempo parcial tem sido utilizado pelas entidades empregadoras com o intuito de uma gestão mais flexível da mão de obra (quando ocorrem picos de produção ou perante as flutuações do mercado) e de instigar remunerações mais baixas. Desde 1998 tem sido sempre superior a 11%, com destaque para 2012 em que atingiu os 14,6%19.
A triangulação laboral –trabalhor, empresa e entidade que cede mão de obra– guia-nos ao trabalho temporário. Os adeptos desta modalidade usam-na para lidar com as características de uma economia flexível e com os processos de descentralização das empresas e de inovação tecnológica. Na maioria dos casos, o trabalho temporário é vivenciado pelos trabalhadores mais como constrangimento do que como uma escolha capaz de valorizar a autonomia de cada trabalhador.
Por fim, na precariedade induzida pelo Estado incluem-se estágios, bolsas e contratos de emprego-inserção. Quem se encontra abrangido por esta modalidade deambula frequentemente entre trabalho e formação e vê-se confrontado com dificuldades de reconhecimento de uma relação laboral. As sucessivas participações em programas governamentais (como os de apoio a desempregados, por exemplo) convertem-se em subsídios e não propriamente numa remuneração salarial ou no acesso a direitos inerentes a um contrato de trabalho.
Estas várias modalidades encontram, pois, expressão no quadro de uma “tendência geral de crescimento da precariedade” que, em Portugal, supera a média europeia (de 12%), estimando-se ser superior a 25%, tanto mais que –contabilizando apenas os contratos de trabalho que não se configuram como contratos sem termo–, tais contratos eram, no final de 2016, 844 mil20. De igual modo, o Livro verde das relações laborais dá conta que, em termos gerais, “os contratos de trabalho não permanentes assumiram já proporções historicamente elevadas –em 2014, mais de 30% dos trabalhadores por conta de outrem do setor privado tinham contratos de trabalho não permanentes”21.
Ainda que desde o início de 2013 se tenha começado a registar uma retoma na criação de emprego, “entre junho de 2011 e janeiro de 2013 foram destruídos 400 mil postos de trabalho, alimentando a emigração para níveis só experimentados na década de sessenta do século passado”22. Embora os contratos permanentes sejam a forma jurídica dominante de emprego, a forma dominante dos novos contratos é a não permanente: “de todos os novos contratos vigentes a 15/5/2017, os contratos permanentes representavam cerca de um terço dos contratos (33,1%), os contratos a prazo correspondiam a pouco mais de outro terço (36,4%) e as outras formas de contrato um pouco menos do outro terço (31,5%)” (ibidem: 6). Na mesma linha, observa-se uma disparidade entre contratos vigentes e contratos assinados e o “predomínio da precariedade é acompanhado por uma degradação da remuneração média dos novos contratos permanentes (837 euros mensais brutos no final do primeiro semestre de 2017), ao mesmo tempo que se verifica uma subida da remuneração média dos contratos não permanentes (777 euros mensais brutos no final do primeiro semestre de 2017)”23. Num contexto em que o Salário Mínimo Nacional (SMN) parece cada vez mais funcionar como remuneração de referência, constata-se que a retoma económica tem vindo a “ocorrer sobretudo em atividades de serviços ligadas ao turismo, ou em atividades que, na maior parte dos casos, são de baixa produtividade e que requerem um baixo nível de qualificação ou de estabilidade dos seus quadros de pessoal” (ibidem).
As tendências de precarização produziram, portanto, impactos diversos nos estudos sobre as desigualdades sociais em Portugal. Até porque as grandes mudanças na economia se traduziram numa crescente retração dos mecanismos de regulação e proteção dos direitos do trabalho. Dos vários estudos e observatórios que têm acompanhado essa questão merece destaque o Observatório das Desigualdades, do ISCTE-IUL (sobretudo os trabalhos conduzidos por Renato Carmo e Nuno Nunes, nos últimos anos), na linha, aliás, de análises anteriores de João Ferreira de Almeida, António Firmino da Costa e Fernando Luís Machado do ISCTE-IUL (a tipologia ACM). Com base na referida tipologia, diversos estudos centraram-se nos anos de intensa crise e austeridade, donde sobressaiu um significativo acentuar das desigualdades, muito embora as linhas divisórias entre diferentes categorias/frações de classe não deem razão ao princípio segundo o qual os segmentos que menos têm a perder são os que mais se mobilizam na luta de classes. Na verdade, amplos setores conotados com a classe média foram aqueles que mais diretamente alimentaram a onda de mobilizações durante a intervenção da troïka24.
Num estudo de CARMO, NUNES e FERREIRA25 colocaram-se em interação desigualdades sociais e ação coletiva, procurando verificar se a perceção de retrocesso social teve implicações num aumento relevante de práticas de ação coletiva. Se bem que circunscrito a uma amostra da população da Área Metropolitana de Lisboa (AML), o estudo levado a cabo permitiu concluir que se generalizou, nos diversos estratos sociais e entre as diferentes classes (sociais), uma perceção de empobrecimento e retrocesso nas condições de vida, em contraposição ao período pré-crise (52,5% dos inquiridos afirmaram estar em pior situação contra apenas 4,7%, que responderam ter melhorado a sua situação). No entanto, relativamente às implicações dessas perceções na ação coletiva, a ligação revelou ser menos clara, concluindo-se que o perfil social habitual dos participantes não se alterou significativamente. Tal como anteriormente, verificou-se a preponderância dos grupos sociais mais qualificados e escolarizados (sobretudo a pequena burguesia técnica e de enquadramento – PTE – com 27,2%), e isto apesar dos momentos de grande mobilização e protesto social vividos entre 2011 e 201326.
Os dados apresentados pelo Observatório das Desigualdades corroboram as análises que temos desenvolvido acerca das tendências de precariedade no trabalho, que atingem com especial contundência as camadas mais jovens e qualificadas da população portuguesa. Em 2015, em Portugal, a taxa de emprego para jovens entre os 15 e os 24 anos situava-se nos 22,8%, sendo o peso do emprego masculino (24,1%) superior ao feminino (21,5%), evidenciando assim o peso da dimensão “género” na manifestação das desigualdades27. Por outro lado, a taxa de emprego continuava a ser superior para os jovens mais qualificados (39,8% para jovens com o ensino superior; 32% para jovens com o ensino secundário e 12% para jovens com o ensino básico). No escalão dos 25-29 anos, a taxa de emprego era superior, registando 72,4%.
Em 2015, 67,5% dos jovens entre os 15 e os 24 anos tinham um contrato de trabalho temporário (42,7% entre os 25 e 29 anos)28. Nesse ano, Portugal encontrava-se entre os países com maior percentagem de jovens com contratos temporários, nomeadamente involuntários (ao lado da Eslovénia, Polónia, Espanha e Croácia). Na verdade, entre 2002 e 2015, a proporção de jovens com contratos temporários foi sempre superior à média da União Europeia. Nos últimos anos, em Portugal, o peso destes contratos tem vindo a diminuir, passando de 77,1% para 67,9% entre 2011 e 2015.
Por sua vez, o desemprego jovem é outra tendência expressiva, continuando a ser elevado em Portugal e no resto da Europa, não obstante os evidentes sinais de recuperação desde 2015, ainda que, como já se disse, sob um lastro de precariedade29. Tendencialmente, os jovens com o ensino básico são os mais afetados, seguidos pelos jovens com o ensino superior, sendo os valores mais elevados registados nas mulheres e nos níveis de habilitação mais baixos. Quanto ao desemprego de longa duração, a taxa atingiu os valores mais altos em 2013-2014, afetando particularmente a faixa dos 15 aos 24 anos (36,3%). Vale a pena referir que os dados apresentados pelo Observatório das Desigualdade sublinham a discrepância dos resultados para Portugal em relação aos demais países da UE em matéria de evolução da taxa de desemprego para homens e mulheres, entre os 15 e 24 anos.
Também os trabalhos coordenados por Carlos Farinha Rodrigues comprovam o agravamento das desigualdades neste período. Entre 2009 e 2014 o rendimento real das famílias sofreu um corte equivalente a 12%, em média, com a maior penalização a incidir sobre as famílias mais pobres (a taxa de pobreza passou de 17,9% para 19,5%)30. O índice de Gini começou a revelar um agravamento das desigualdades a partir de 2009, apesar de pouco acentuado, passando de 33,7% para 34% em 2014. Na mesma linha, aliás, o rácio S90/S10, que mede a diferença de rendimentos entre os 10% mais elevados e os 10% mais baixos, evoluiu de 9,2 para 10,6. Daqui resulta, como seria de esperar, um “congelamento” quase generalizado das categorias baixas e médias da estratificação no campo das carreiras profissionais e, portanto, no que respeita à tão proclamada mobilidade social. Em suma, afirma o mesmo autor a esse respeito, “[a] análise da mobilidade social ocorrida no período 2009-2012 é esclarecedora do impacto redistributivo da crise e do processo de ajustamento: 69% dos indivíduos viram o seu rendimento diminuir entre 2009 e 2012, com um quarto da população a ter um decréscimo do rendimento real superior a 30%” (ibidem: 29). Em síntese, os processos de degradação salarial e de desvalorização do trabalho configuram-se, mais do que como uma questão de números, como um problema cultural, “a questão mais dramática que atravessa a sociedade portuguesa”31.