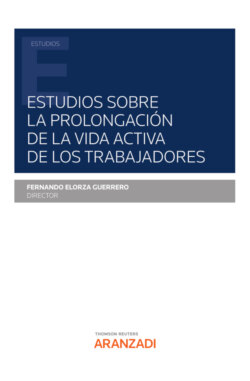Читать книгу Estudios sobre la prolongación de la vida activa de los trabajadores - Fernando Elorza Guerrero - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V. Conclusão
ОглавлениеAs condições de trabalho são um elemento decisivo no quotidiano de quem é parte integrante da população ativa de um país. Ainda que as populações jovens se sintam hoje cada vez mais desamparadas quando às perspetivas de integração profissional (desde logo porque foram educadas num contexto de mudança de emprego várias vezes ao longo da vida, ou porque os níveis de desemprego jovem apresentam sinais preocupantes, etc), os cenários de desigualdade, de assimetria e de incerteza (reforçados pela pandemia que atingiu o mundo inteiro em 2020) continuam bem presentes no mercado laboral. No caso português, não só isso foi evidente no contexto de austeridade (em especial de 2011 a 2015), como as incertezas e dificuldades (traduzidas em mais desemprego, pobreza, falências de empresas, etc.) aumentaram drasticamente com a pandemia.
Mas isso significa que os mais velhos ficam para trás? A posição que procurámos transmitir neste texto foi a inversa dessa. Sobretudo em resultado da recente pandemia, nunca como hoje terá feito tanto sentido reabilitar conceitos e referências de emancipação em prol do bem-estar e da dignidade de quem trabalho. O Estado Social, a busca de novas seguranças para o emprego e ativação de uma solidariedade intergeracional são elementos decisivos para um mundo do trabalho mais integrado e mais coeso. A ideia de longlife learning, tão debatida nas ciências sociais e educacionais, continua a fazer sentido (talvez hoje ainda mais) na medida em que quer as soft skills quer o know how adquiridos em anos ou décadas de experiência prática constituem um potencial de saberes que as camadas mais idosas, mesmo quando oficialmente aposentadas, podem continuar a disponibilizar aos mais novos, às empresas, à economia solidária, etc., de que todos podemos beneficiar. De igual modo, como corolário disso, torna-se crucial adotar medidas vindas “de cima” (de orientação da política), relacionadas com as populações mais idosas, com o modo como gerem o seu tempo, com a continuidade que podem dar aos seus processos educativos, com as suas motivações e sinais de reconhecimento emanadas da própria sociedade. É sabido que as sociedades não se mudam por decreto e que as mudanças em vários sistemas (de pensões, de serviços saúde, de segurança social) há muito são debatidas. Mas o inelutável aumento do envelhecimento da população mundial (com mais intensidade na Europa) é um sinal eloquente do quão importante é contribuir para a formação, bem-estar, sentido de participação das populações seniores. O futuro das gerações mais velhas é o futuro de todos nós. Cuidar delas é cuidar do trabalho, contribuir para dignificá-lo e ao mesmo tempo estimular a economia para uma “boa sociedade”.
1. Nesta seção, reproduzimos e atualizamos a argumentação desenvolvida em ESTANQUE, E.; COSTA, H. A.: “Trabalho e desigualdades no século xxi: velhas e novas linhas de análise”, Revista Crítica de Ciências Sociais, número especial, 2018, pp. 261 e ss.
2. COSTA, H. A.: Sindicalismo global ou metáfora adiada? Discursos e práticas transnacionais da CGTP e da CUT, Edições Afrontamento, Porto, 2008, 854 pp.; COSTA, H. A.: “A flexigurança em Portugal: desafios e dilemas da sua aplicação”, Revista Crítica de Ciências Sociais, número 86, 2009, págs. 123-144.
3. SANTOS, B. S.: Portugal. Ensaio contra a autoflagelação, Almedina, Coimbra, 2012; FERREIRA, A. C.: Sociedade da austeridade e direito do trabalho de exceção, Vida Económica, Porto, 2012; LEITE, J. et al.: “Austeridade, reformas laborais e desvalorização do trabalho”, in REIS, J (coord.): A economia política do retrocesso: crise, causas e objetivos, CES/Almedina, Coimbra, 2014, pp. 127-188; SILVA, M. C.; HESPANHA, P.; CALDAS, J. M. (orgs.): Trabalho e políticas de emprego: um retrocesso evitável. Actual Editora, Lisboa, 2017.
4. ALMEIDA, J. R. et al.: “A concertação social em tempo de crise”, in SILVA, M. C.; HESPANHA, P.; CALDAS, J. M.: (orgs.), Trabalho e políticas de emprego: um retrocesso evitável, Actual Editora, Lisboa, 2017, págs. 301-361.
5. COSTA, H. A.; COSTA, E. S.: “Trabalho em call centers em Portugal e no Brasil: a precarização vista pelos operadores”, Tempo Social, n° 30(1), 2018, págs 105-127.
6. Cingolani, P.: La Précarité, Presses universitaires de France, Paris, 2005.
7. PAUGAM, S. La disqualification sociale: essai sur la nouvelle pauvreté, Presses universitaires de France, Paris, 2013.
8. Hewison, K. (2016): “Precarious Work”, in Edgell, S.; Gottfried, H.; Granter, E (eds.): The Sage Handbook of Sociology of Work and Employment, Sage, London, 2016, págs. 428-443.
9. SOEIRO, J.: A formação do precariado: transformações no trabalho e mobilizações de precários em Portugal (Tese de Doutoramento em Sociologia: Relações de Trabalho, Desigualdades Sociais e Sindicalismo), Faculdade de Economia, Coimbra, 2015.
10. STANDING, G.: The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, London, 2011.
11. STANDING, G.: “O precariado e a luta de classes”, Revista Crítica de Ciências Sociais, n° 103, 2014, págs. 9-24.
12. BRAGA, R.: “Precariado e sindicalismo no Brasil contemporâneo: um olhar a partir da indústria do call center”, Revista Crítica de Ciências Sociais, n° 103, 2014, pp. 25-52.
13. Huws, U.: The Making of a Cybertariat: Virtual Work in a Real World, Monthly Review Press, New York, 2003.
14. SOEIRO, J.: op. cit., pp. 117 e ss.
15. EUROSTAT: Employment statistics, 2015 [http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics].
16. Projeto Erasmus+ LATWORK - “Problemas emergentes no Mercado Laboral latinoamericano: Desafios para os pesquisadores académicos nas IES Latinoamericanas” (projeto em curso 2018-2021). É um projeto financiado pela Comissão Europeia que envolve 9 universidades de 3 países da América Latina (Brazil, Argentina e Chile) e ainda 3 universidades europeias: Universidade de Alicante (ES), Universidade de Coimbra (PT) e Universidade de Aberdeen (Escócia). É coordenado pela Universidade de Viña del Mar, Chile e pela Universidade de Alicante, Espanha.
17. OECD et al.: Latin American Economic Outlook 2019: Development in Transition, OECD Publishing. Paris, 2019, https://doi.org/10.1787/g2g9ff18-en.
18. GEP-MTSS – Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, Livro verde sobre as relações laborais, GEP-MTSS, Lisboa, 2016, p. 181.
19. REIS, J.: A economia portuguesa: formas de economia política numa periferia persistente (1960-2017), Almedina, Coimbra, p. 231.
20. REIS, J.: op. cit., p. 231.
21. GEP-MTSS, op. cit., p. 188.
22. ALMEIDA, J. R.: “Novo emprego. Que emprego?”, Barómetro das crises, n° 16, 2017, p. 1-14.
23. Observatório sobre Crises e Alternativas: “Retoma económica: o lastro chamado precariedade”, Barómetro das crises, n° 18, 2018, p. 1.
24. ESTANQUE, E.: A classe média. Ascensão e declínio, Fundação Francisco Manuel dos Santos, Lisboa, 2012; ESTANQUE, E.: Classe média e lutas sociais: ensaio sobre sociedade e trabalho em Portugal e no Brasil, Editora da Unicamp, Campinas, 2015.
25. Carmo, R.; Nunes, N.; Ferreira, D.A. C., “Desigualdades, perceções da crise e ação coletiva na área metropolitana de Lisboa”, in MACHADO, F. L.; ALMEIDA, A. N.; COSTA, A. F. Sociologia e sociedade: estudos de homenagem a João Ferreira de Almeida, Editora Mundos Sociais, Lisboa: 2016, pp. 159-174.
26. COSTA, H. A.; DIAS, H.; SOEIRO, J.: “As greves e a austeridade em Portugal: olhares, expressões e recomposições”, Revista Crítica de Ciências Sociais, n° 103, 2014, págs. 173-202; FONSECA, D.: “Sindicalismo de movimento social em Portugal: contributos da relação entre CGTP e movimentos sociais de precários para a renovação do sindicalismo português”. (Tese de Doutoramento em Sociologia: Relações de Trabalho, Desigualdades Sociais e Sindicalismo), Faculdade de Economia, Coimbra, 2016.
27. FERREIRA. V.; MONTEIRO, R.: Trabalho, igualdade e diálogo social: estratégias e desafios de um percurso, Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, Lisboa, 2013.
28. CARMO, R.; MATIAS, R.: “A situação contratual dos Jovens em Portugal e na Europa”, Observatório das Desigualdades – CIES/ ISCTE-IUL, 2016.
29. Observatório sobre Crises e Alternativas, 2018, op. cit.
30. RODRIGUES, C. F.; Figueiras, R.; Junqueira, V., Desigualdades do rendimento e pobreza em Portugal, Fundação Francisco Manuel dos Santos, Lisboa, 2016.
31. REIS, J.: op. cit., p. 235.
32. DIONÍSIO, J.: “O direito do trabalho e o modelo social europeu”, Janus-Anuário de Relações Exteriores, n° 8, 2004, p. 1.
33. ROSS, G.; MARTIN, A.: “European Union Face the Millennium”, in MARTIN, A.; ROSS, G. (eds.), The Brave New World of European Labor: European Trade Unions at the Millennium, Berghahn Books, New York, 1999, pp. 1-25.
34. REGINI, M.: Uncertain Boundaries: The Social and Political Construction of European Economies, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
35. ROSA, M. J. V.; CHITAS, P.: Portugal: os números, Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2010.
36. Recorde-se que em 1984 a Lei de Bases da Segurança Social veio consagrar em definitivo um modelo universal de direitos, com um regime geral (para os trabalhadores por conta de outrem e para os independentes) e um regime não contributivo (alargado a todos os que não dispõem de proteção do regime geral), financiado pelas contribuições dos trabalhadores, das entidades patronais e pelas transferências do Orçamento do Estado.
37. Por exemplo o número de pensionistas da Segurança Social era, em 2010, 50 vez maior do que o registado no início dos anos 60 (56.000, em 1960, quase três milhões em 2010). Esta evolução teve, naturalmente, reflexos na despesa da Segurança Social: em 1971 equivalia a 3,1% do PIB, hoje equivale a 16,1% do PIB. Do lado das receitas da Segurança Social também houve mudanças: entre 1971 e 2008, as receitas passaram, em percentagem do PIB, de 4,5% para 17,6%, ou seja, quatro vezes mais. (ROSA e CHITAS, op. cit., p. 50).
38. Em 1960, esta despesa com pensões representava 0,2% do PIB, hoje já representa 8% do PIB. Entre os pensionistas (velhice, invalidez e sobrevivência) da Segurança Social, em 2010, o grupo mais expressivo é o dos que beneficiam de pensões por velhice: 65% dos casos, hoje, enquanto em 1960 só equivalia a 21%. Em 1960 o número de pensionistas por velhice eram 12 mil; em 2008 esse número passou quase para 2 milhões (ROSA e CHITAS, op. cit., pp. 55-56).
39. Em 2008, 1,1 mil milhões de euros foram gastos em subsídios de desemprego, 12 vezes mais do que em 1977 (ROSA e CHITAS, op. cit., p. 58).
40. Desde a criação desta prestação, em 1998, o número de subsídios atribuídos passou de 340 mil para mais de meio milhão, em 2009. (ROSA e CHITAS, op. cit., p. 58).
41. ESTANQUE, E; BEBIANO, R.: Do Activismo à Indiferença - Movimentos Estudantis em Coimbra, Imprensa de Ciências Sociais, Lisboa, 2007.
42. STANDING, G.: Work after globalization, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2009, p. 37.
43. Para uma discussão sociológica e filosófica da importância deste conceito nas relações laborais, inspirada no filósofo holandês Henk Vos, cf., entre outros, WATERMAN, P.: Globalization, social movements & the new internationalisms, Mansell, London, 1998.
44. SANTOS, B. S.: Globalização: fatalidade ou utopia?, Afrontamento, Porto, 2001, p. 93.
45. IIMARINEN, J.: “Promover o envelhecimento ativo no local de trabalho”, Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2012, p. 1 ss.
46. IIMARINEN, J.:, op. cit., p. 1.
47. OCDE: Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems, 2019, OECD Publishing, Paris [https://doi.org/10.1787/9789264311756-en, acedido em 27.08.2020].
48. GALLEGOS, R.: La Vida y El Tiempo. Apuntes para una teoria ucrónica de la vida buena a partir de la historia reciente del equador. (Tese de Doutoramento em Sociologia: Relações de Trabalho, Desigualdades Sociais e Sindicalismo), Faculdade de Economia, Coimbra,, 2018. Na introdução à referida tese de doutoramento o autor sumaria assim esta concetualização (no original): “1. la satisfacción con la vida depende de la distribución del tiempo; 2. el sumak kawsay está en función del grado de concentración social y espacial del tiempo bien vivido; 3. la usurpación de la buena vida está ligada al racismo, patriarcalismo y a las relaciones capital-trabajo como condiciones estructurales y estructurantes de relaciones de poder; 4. el tiempo bien vivido no debe ser evaluado exclusivamente por la longevidad, sino por los bienes relacionales generados en ese período temporal; 5. el bienestar monetario puede convivir con altos niveles de ‘mal vivir’ temporal; 6. las decisiones macroestructurales también afectan las decisiones individuales; y, 7. el sumak kawsay social no puede deslindarse de una vida armónica con la Pachamama” (Idem, p. 5).
49. COSTA, H. A. et al: Poderes sindicais em debate: desafios e oportunidades na Autoeuropa, TAP e PT/Altice, Almedina, Coimbra, 2020, p. 56 e ss.
50. GEP-MTSS, op. cit., 2016.
51. CANTANTE, F.: O mercado de trabalho em Portugal e nos países europeus. Estatísticas 2018, Observatório das Desigualdades, Lisboa, 2018. Veja-se ainda ESTANQUE, E.: Classe Média. Ascensão e Declínio. FFMS, Lisboa, 2012.
52. ARAÚJO, S.: Aumentar as qualificações em Portugal. OECD Publishing: Paris, 2017.
53. ESTANQUE, E.: Classe Média. Ascensão e Declínio. FFMS, Lisboa, 2012; RODRIGUES, C. (coord.), Desigualdades do Rendimento e Pobreza em Portugal (2009-2014), FFMS, Lisboa, 2016.
54. ESTANQUE, E.: Classe Média e Lutas Sociais, Unicamp, Campinas, 2015.
55. REBELO, J; BRITES, R.: A comunicação sindical da CGTP-IN, CGTP, Lisboa, 2012.
56. COSTA, H. A.; ARAÚJO, P.: As vozes do trabalho nas multinacionais: o impacto dos Conselhos de Empresa Europeus em Portugal, Almedina/CES, Coimbra, 2009.
57. ESTANQUE, E; COSTA, E.: (orgs.), O sindicalismo português e a nova questão social: crise ou renovação? Almedina/CES, Coimbra, 2011.
58. ESTANQUE, E.; COSTA, H. A.; SILVA, M. C.: “O futuro do sindicalismo na representação sociopolítica”, in FREIRE, A (org.), O futuro da representação política democrática, Nova Vega, Lisboa, pp. 119-142.
59. AGOSTINI, C.; NATALI, D.: “The European governance of education: progresses and challenges”, ETUI Policy Brief n° 2, 2013; HEYES, J.: Vocational education and training and the Great Recession: supporting young people in a time of crisis. Report 131, ETUI, Brussels, 2014.
60. FAYOLLE, J.: “New Skills for New Jobs: Scope for trade union intervention and sectoral dialogue”. ETUI Policy Brief, 1, ETUI, Brussels, 2011.
61. Waddoups, C. J.: “Union membership and job-related training: incidence, transferability, and efficacy”, British Journal of Industrial Relations 52(4), 2014, pp. 753-778.
62. https://www.etuc.org/en/document/etuc-resolution-supporting-workplace-learning-tackle-unemployment-europe (acedido em 21.08.2020).
63. FORTI, A.; QUINTINI, G.: “O futuro do trabalho e a educação e formação de adultos em Portugal”, Dirigir e Formar, n° 23, 2019, pp. 65.
64. FORTI, A.; QUINTINI, G.: op. cit., pp. 65.
65. JACOB, L.: “As universidades seniores em Portugal”, Jornal de Negócios, 2020 [https://www.jornaldenegocios.pt/opiniao/colunistas/economia-social/detalhe/as-universidades-seniores-em-portugal1, acedido em 27.08.2020].
66. DECO: “Reforma: prolongar a vida para receber mais”, 2020 [https://www.deco.proteste.pt/dinheiro/reforma/dicas/reforma-prolongar-a-vida-ativa-para-receber-mais, acedido em 30.07.2020].
67. IIMARINEN, J.: op. cit., p. 2.
68. IIMARINEN, J.: op. cit., p. 8.